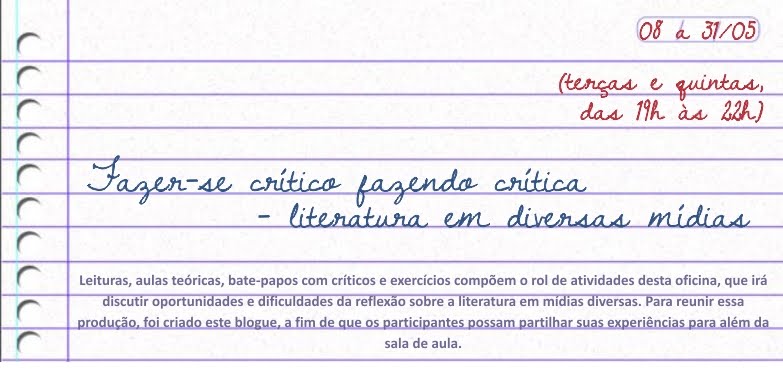Livro:
A invenção de Hugo Cabret Autor: Brian Selznick Tradução:
Marcos Bagno
Gênero:
Literatura infanto-juvenil Editora:
Edições SM ano:
2007
Crítica
de Melissa Suárez Cruz
Classificações
são úteis, mas também limitantes. Definir um livro como infanto-juvenil é quase
que também dizer que a narrativa é desinteressante para adultos, nada mais
falso se o livro em questão for A
invenção de Hugo Cabret, quarto livro
do norte-americano Brian Selznick.
Narrada em
terceira pessoa e de escrita acessível (é claro), não é que a história tenha
profundidade dramática ou grandes reflexões filosóficas ou sociais (questões,
aliás, que muitos livros adultos também não têm), estas até caberiam, já que o
personagem principal, Hugo Cabret, é um órfão que vive em uma estação
ferroviária e usa de vários subterfúgios para sobreviver, como roubar.
Além do
subterfúgio óbvio, este menino de treze anos tem plena certeza de que precisa
se manter invisível, para isso é tão importante se locomover infiltrando-se na
multidão ou em tubos de ventilação quanto é fundamental trabalhar na manutenção
dos relógios da estação. Este trabalho e a grande importância que o menino dá a
um caderno com desenhos começam a criar a aura de mistério que são a linha
mestra da narrativa.
O foco do
livro não está na situação de miséria de Hugo, mas sim no convite feito ao
leitor para que veja o mundo pelos olhos deste menino. É dessa forma que o
caderno, seus desenhos, um homem mecânico, a loja de brinquedos, o velho da
loja, sua sobrinha, entre outros, vão ganhando grandes dimensões. Isto porque
são matéria-prima de temas muito caros a nós, humanos: esperanças e sonhos.
Temas que dão o caráter universal da narrativa.
A esperança
do Hugo foi o sonho do velho. A teimosa e inocente juventude que se dá sempre
ao direito de esperar da vida o que a maturidade já desistiu de fazê-lo.
A sedução da narrativa está não só nos mistérios
que se entremeiam com sonhos e esperanças, mas também pelo formato criativo e
multissemiótico que acrescenta pitadas de imaginação e magia.
Assim como
há filmes-fábulas que marcam seu início com a cena de uma página de livro sendo
virada, a primeira página de A invenção
de Hugo Cabret pede ao leitor que se imagine vendo a tela do cinema. As
bordas pretas e as ilustrações de página inteira facilitam esse processo de
interação com a sétima arte.
Na verdade,
é injusto chamar os desenhos de ilustrações, porque são também voz narrativa. Brian
Selznick usa da sua formação em Design e da sua experiência inicial de
ilustrador para, não só, ilustrar a própria escrita, como também fazer dos
desenhos uma escrita. As palavras revezam espaço com as imagens e ambas contam
a história. Não há invasões de linguagens. A palavra não retoma aquilo que os
desenhos acabaram de contar.
Palavras,
ilustrações-narrativas e cinema dão caráter multissemiótico da obra que ainda
incluem outra linguagem: a magia. O formato e conteúdo do livro se caracterizam
por linguagens que interagem com linguagens: a palavra dá a espaço à imagem e
ambas usam do cinema como lente e como tema, interligando o cinema a seu
início, a mágica.
Não é a toa
que A invenção de Hugo Cabret tenha
se tornado filme de Martin Scorsese. Pode-se afirmar que os oscars ganhos relativos a fotografia e
efeitos visuais são em parte devidos a esta narrativa multimodal, muito
estimulante para a visão, algo que com certeza ajudou o diretor nesta adaptação
ao cinema.
Mágica é
ilusionismo e cinema é ilusão, literatura é ilusão, sonhos também são ilusão.
Paradoxalmente, nem toda ilusão ilude. Há ilusões que nos sensibilizam, como a
literatura e o cinema; ou nos motivam, como nossos projetos pessoais. O que faz
de um sonho virar um projeto pessoal de vida? Assim, o cinema, nesta história,
não é só aquilo que se projeta na tela, mas também o que os e espectadores
projetam para si através da tela e o que cineastas projetam de si na tela.
Por isso as
invenções do livro são várias, as invenções mecânicas, as invenções da mágica
(através da mecânica), a invenção do cinema (através da mágica). A autoinvenção
de um futuro para Hugo e a autoinvenção do velho de um presente que nega sonhos
passados.
A invenção de
Hugo Cabret não só tematiza a
possibilidade de realizar sonhos como é que concretiza e, por isso, instigante
do início ao fim.